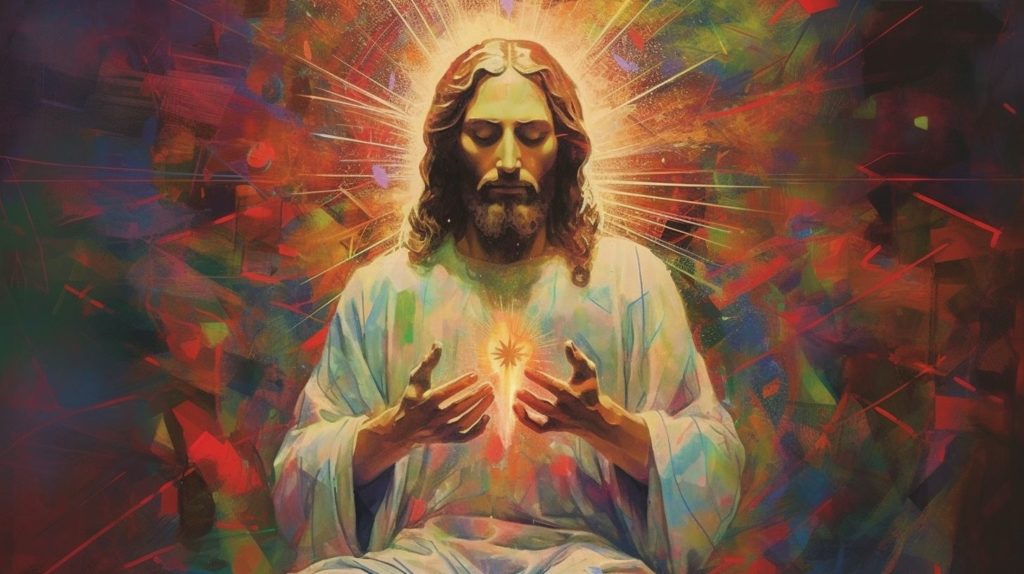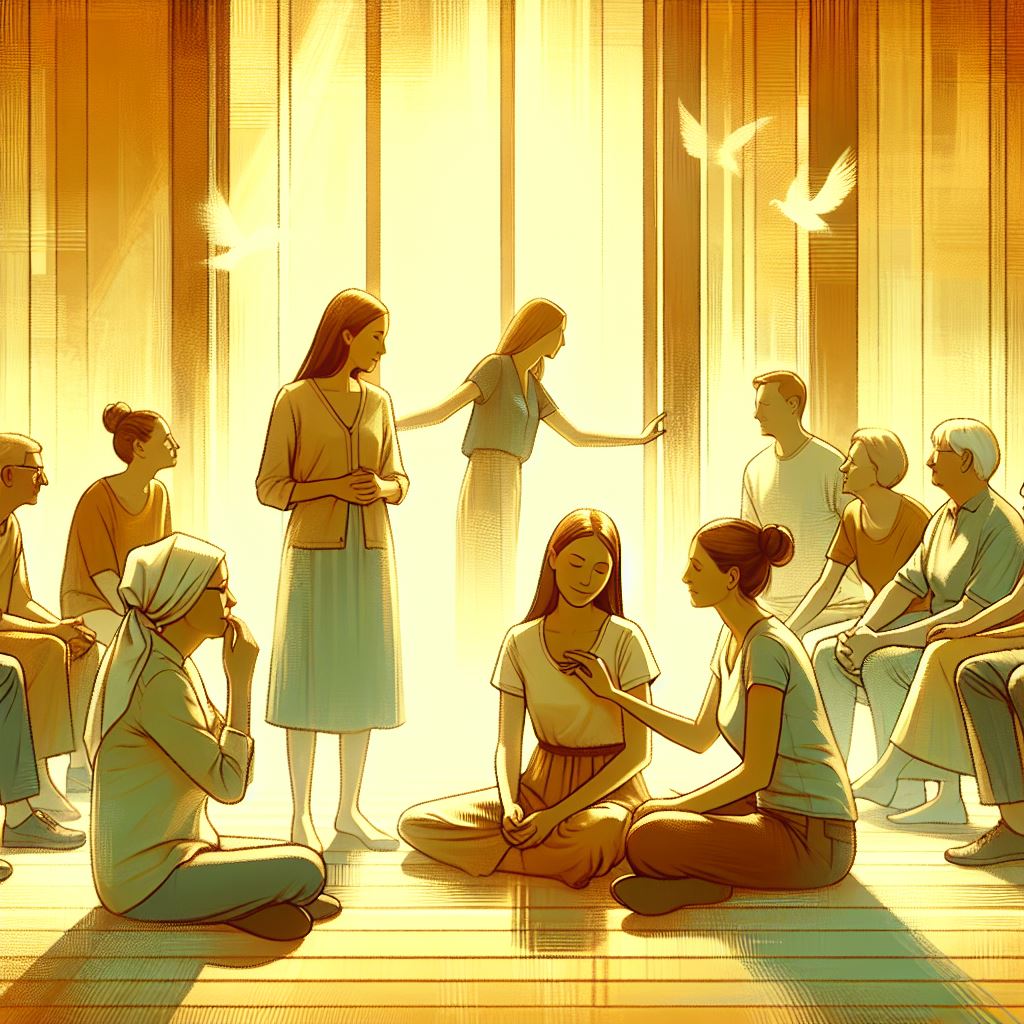Começamos por observar[1] — na escuta do que nos diz o Diretório Geral da Catequese, que é uma espécie de lei de bases do sistema educativo da Igreja católica — que a «educação cristã na família, a catequese e o ensino da religião na escola, cada qual segundo as próprias características peculiares, estão intimamente correlacionados com o serviço da educação cristã das crianças, adolescentes e jovens. Na prática, porém, é preciso ter em consideração as diferentes variáveis que geralmente se apresentam, com o intuito de agir com realismo e prudência pastoral, na aplicação das orientações gerais» (DGC 76). Começamos por referir a família, porque ela é o primeiro local de socialização da criança, independentemente do tipo de família em que cada pessoa nasce.
Não se pode ignorar, como nos recorda o Papa Francisco, que a «família atravessa uma crise cultural profunda, como todas as comunidades e vínculos sociais. No caso da família, a fragilidade dos vínculos reveste-se de especial gravidade, porque se trata da célula básica da sociedade, o espaço onde se aprende a conviver na diferença e a pertencer aos outros e onde os pais transmitem a fé aos seus filhos» (EG 66), pelo que caberá a cada diocese ou região pastoral discernir as diversas circunstâncias que se conjugam, tanto no que diz respeito à existência ou não da iniciação cristã no âmbito das famílias, para os próprios filhos, bem como no que diz respeito às responsabilidades formativas que, segundo as tradição e situações locais, são levadas a cabo pelas paróquias e as escolas. Mas o que gostava de sublinhar, sob pena de tudo o que se disser a seguir ficar sem apoio, é que a educação é uma responsabilidade dos pais, mas a comunidade cristã, como lugar primeiro da vivência da fé, tem um papel insubstituível. Falar de educação cristã é assumir, potenciar e ter bem presente uma relação muito estreita entre as famílias — os diferentes tipos de família — e a comunidade cristã local.
Olhando agora mais para o ensino da religião na escola (ou educação moral e religiosa nas escolas) vemos que este se desenvolveu em contextos escolares muito diversos, ao longo dos tempos e das diferentes geografias, o que faz com que, embora mantendo o seu caráter próprio, tenha adquirido diversas concretizações ao longo dos tempos. Os diversos entendimentos e configurações que a disciplina assume dependem dos seguintes fatores: 1) das condições legislativas e de organização dos diversos Estados; 2) da conceção que se tem da didática; 3) dos pressupostos pessoais dos professores e dos alunos em relação à disciplina; 4) da relação que o ensino religioso escolar for capaz de estabelecer com as famílias, a catequese e a comunidades paroquiais.
O papa São João Paulo II, já em 1991, defendia que os alunos «têm o direito de aprender, de modo verdadeiro e com certeza, a religião à qual pertencem. Não pode ser desatendido este seu direito a conhecer mais profundamente a pessoa de Cristo e a totalidade do anúncio salvífico que Ele trouxe. O caráter confessional do ensino religioso escolar, realizado pela Igreja segundo modos e formas estabelecidas em cada País, é, portanto, uma garantia indispensável, oferecida às famílias e aos alunos que escolhem tal ensino»[2].
Por seu turno, o terceiro parágrafo do Artigo 26º da Declaração Universal dos Direitos Humanos refere que os encarregados de educação têm o direito de escolherem o género de educação a dar aos filhos, pelo que a disciplina de Educação Moral e Religiosa nas escolas tem o seu fundamento na liberdade e direito que os encarregados de educação têm de assegurar a educação religiosa e moral dos seus educandos, em conformidade com as suas próprias convicções, o qual se concretiza prioritariamente através da criação de condições necessárias para que os pais ou encarregados de educação possam optar livremente pelo modelo educativo que mais convenha à educação integral dos seus educandos.
Por fim — e este é o argumento que mais me atrai e convence — a educação integral de cada pessoa visa proporcionar o pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido da sua dignidade, reforçando o respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais, bem como a formação do carácter e da cidadania, preparando o educando para uma reflexão consciente sobre os valores espirituais, estéticos, morais e cívicos. A que acresce o facto de que as religiões são parte fundamental da construção da identidade de cada nação, pelo que a Educação Moral e Religiosa Católica contribui para o reforço da identidade nacional dos países de forte tradição cristã, como é o caso dos nossos. Mas sem nunca perder de vista que a tarefa da escola pública consiste em proporcionar a cada cidadão-aluno conhecimentos objetivos e competências críticas sobre o facto religioso; e todas aquelas coisas que irão permitir-lhe integrar-se e reagir de maneira construtiva numa sociedade desenvolvida. Esta tarefa educativa não pode ser abandonada pura e simplesmente às organizações religiosas; é uma tarefa específica da escola, sobretudo numa conjuntura histórica e num espaço cultural como os das sociedades ocidentais, onde as razões de coabitação civil correm o risco de dissolver-se na “amnésia” geral das raízes religiosas e éticas.
Agora, aquilo que se entende por ensino religioso escolar também tem alguns matizes (cf. DGC 74-75). Nuns casos, em que as leis civis determinam que o ensino deve ser ministrado, de forma comum, a católicos e a não católicos, o ensino deverá privilegiar uma abordagem mais ecuménica e de apresentação das diferentes religiões, numa clara proposta inter-religiosa. Por outro lado, o ensino religioso escolar poderá ter um caráter mais cultural, orientado para o conhecimento das religiões, apresentando, com o necessário destaque, a religião católica. Aqui, o ensino será também uma verdadeira propedêutica à fé, sobretudo se o professor for prudente e respeitador das diversidades presentes na sala de aula.
Já os alunos, e tendo presente os diversos níveis de identificação religiosa que eles possam ter, possuem objetivos distintos. Para os que têm fé, as aulas de religião ajudarão a compreender melhor a mensagem cristã, em relação com os grandes problemas existenciais comuns às religiões e característicos de todo ser humano, com as visões da vida mais presentes na cultura, e com os principais problemas morais nos quais, hoje, a humanidade se encontra envolvida. Por seu turno, os alunos que se encontram numa situação de busca ou diante de dúvidas religiosas, poderão descobrir no ensino religioso escolar o que é, exatamente, a fé em Jesus Cristo, quais são as respostas que a Igreja oferece aos seus questionamentos, dando-lhes a oportunidade de perscrutar melhor a própria decisão. Por fim, os alunos não têm fé têm nas aulas de religião uma proposta de síntese cultural a partir da matriz cristã, percebendo o que o Cristianismo tem oferecido à Humanidade e como a proposta de Jesus Cristo tem sido um fator de desenvolvimento cultural e humano. Não poucas vezes, uma proposta séria e coerente da síntese cultural cristã tem sido um primeiro anúncio missionário que se desenvolve, depois, num processo de identificação com Jesus Cristo, no seio de uma comunidade cristã concreta.
Caminho da compreensão do Ensino Religioso Escolar
A presença do ensino do facto religioso nas escolas tem ocupado muita da pesquisa e reflexão na Europa. E já se percebeu que defender a legitimidade, ou a necessidade, de uma cultura religiosa crítica no ensino, não é só um dever que corresponderia atualmente às organizações religiosas ou somente aos grupos crentes; é uma petição frequente da maior parte das organizações civis nacionais e internacionais responsáveis pela gestão de bens culturais e das políticas educativas comuns. Para ilustrar esta ideia não faltam exemplos. De entre os mais eloquents, mostrarei apenas três exemplos.
A Comissão Internacional da Educação para o século XXI, no Relatório de 1996 à UNESCO — conhecido como o Relatório Delors —, quis integrar com toda justiça entre os quatro pilares de base de toda educação, o imperativo de aprender a viver juntos e pelas diferenças: «Ensinando os jovens a adotar a perspetiva de outros grupos étnicos ou religiosos, podem ser evitadas incompreensões geradoras de ódio e de violência entre os adultos. Deste modo, o ensino da história das religiões ou dos costumes pode servir de referência útil para os futuros comportamentos»[3].
O segundo exemplo, amplamente conhecido e favoravelmente recebido na França, é o Relatório de Régis Debray (Abril de 2002) que justifica e fundamenta o ensino do facto religioso na escola laica, por um lado, por causa da «angústia de um desmembramento comunitário de solidariedades cívicas, para o qual contribui, e não pouco, a ignorância do passado e das crenças de outros, repleto de preconceitos», e, por outro lado, pela «busca, através da universalidade do sagrado, com suas proibições e autorizações, de um núcleo de valores constitutivos, para relevar desde o primeiro momento da educação cívica e moderar a destruição de pontos de referências comuns»[4].
Compreende-se que, numa sociedade europeia que se fez pós-cristã e pluralista, é indesculpável que a Escola e a Universidade, quando esta prepara os futuros professores, não valorize a leitura e a interpretação do fenómeno religioso — e também o fenómeno correspondente da secularização — com o objetivo de formar as novas gerações no sentido de saberem ler e interpretar o peso do religioso nas diversas culturas humanas, de se abrirem aos problemas fundamentais do sentido da transcendência e de aprenderem a assumir uma identidade pessoal e cívica aberta à alteridade, isto é, capaz de dialogar com identidades diferentes, mas de igual dignidade e legitimidade.
Por isso, o terceiro exemplo que gostava de mostrar é a publicação dos Princípios Orientadores de Toledo sobre o ensino das religiões e crenças nas escolas públicas[5], onde se dá resposta àquilo que muitos ministérios da educação europeus e a Comissão Europeia já tinham repetidamente pedido: a necessidade de uma disciplina curricular onde se ensine o facto religioso, não apenas para transmitir um património doutrinal, ou para assegurar uma cultura religiosa ao nível das outras áreas do saber, mas também para propor uma visão universalista dos direitos humanos, através de uma pedagogia e didática interculturais. Reconhece-se, assim, uma tabela de valores comuns e compartilhados, a fim de possibilitar às novas gerações a denominada “nova cidadania europeia”.
Estes exemplos se, à primeira vista, parecem muito animadores não deixam de levantar também sérias questões que, no final da nossa comunicação, iremos aflorar.
Mas para nos ajudar a organizar ideias e pensamentos, considero que é oportuno conhecer a pesquisa que a Universidade de Viena, na Áustria, está a liderar, denominado: Educação Religiosa Escolar na Europa[6]. Este trabalho visa conhecer como é que a educação religiosa escolar está a ser desenvolvida em cada país europeu. Até ao momento já publicaram três volumes, correspondentes à Europa Central, à Europa Ocidental e ao Norte da Europa. Falta publicar, ainda, mais três volumes, relativos à Europa de Leste, de Sudoeste e do Sul. O que nos interessa aqui é que os investigadores identificaram 13 itens que são depois trabalhados com os dados de cada país ou região e que ajudam a percebe de modo cabal como o ensino religioso acontece nas escolas. Irei abordar apenas dez, porque os outros são mais de síntese e de projeção do que deverão ser as opções políticas de cada país[7]:
1. Antecedentes sócio-religiosos do país, pretende-se uma breve descrição sobre a situação sócio-religiosa percebida, em particular, a partir de mudanças importantes que se tenham realizado mercê de fenómenos sociais mais densos, como seja o caso da imigração, alterações políticas, e outras.
2. Quadro legal para a educação religiosa e a relação entre comunidades religiosas e o estado. Procura-se perceber como é que o relacionamento entre igrejas, grupos religiosos e o estado é regulado em cada país, com consequências para os diferentes enquadramentos legais que existem para a educação religiosa.
3. Desenvolvimentos nas políticas educacionais do país. Dado que se estão a proceder por toda a Europa a reformas no sistema educativo, importa perceber que efeitos têm na educação religiosa, quer de forma direta, quer indireta.
A partir do quadro que estas reformas geram, há implicações nos pontos fulcrais da educação religiosa a seguir enunciados:
4. Papel das escolas de inspiração religiosa, incluindo as mudanças que se operaram no quadro jurídico.O lugar das escolas confessionais, no cenário educacional de cada país, revela muito sobre o reconhecimento estatal e social da importância das Igrejas e grupos religiosos no sistema educacional, bem como sobre o compromisso com a educação religiosa.
5. Conceções e tarefas da educação religiosa. As conceções e tarefas da educação religiosa dizem como ela se posiciona na relação entre as comunidades religiosas, a escola e os alunos, bem como a sociedade no seu todo. É na inter-relação entre esses diferentes atores que reside o desafio da educação religiosa.
6. Prática / realidade da educação religiosa em diferentes escolas. Dependendo do tipo de escola em questão, a educação religiosa pode apresentar diferentes enquadramentos, desafios e dificuldades. Nos quatro itens que vamos ver a seguir, abordam-se fenómenos importantes no contexto da educação religiosa, que acabam por ter implicações no conceito de educação religiosa que se tem e, consequentemente, na formação que se há de ministrar aos professores de religião
7. Observações sobre assuntos/áreas de aprendizagem alternativas, como ética, filosofia, cidadania e outras. A consideração sobre as disciplinas ou áreas de aprendizagem que são oferecidas, em paralelo com a educação religiosa também é muito importante, por duas ordens de razões: 1) por uma lado, porque o facto de a disciplina de religião ser de frequência obrigatória ou de frequência alternativa (ter educação moral ou cidadania, por exemplo) ou de frequência opcional (ter aula ou ter um tempo sem aula) condiciona muito o modo como a disciplina é ministrada; 2) por outro lado, afeta também o tipo de educação ética e religiosa dos alunos que não frequentam as aulas de religião.
8. Lidar com a diversidade religiosa. A diversidade religiosa é cada vez mais um dado adquirido, pelo que saber lidar com ela e identificar modos de cooperação entre os diferentes atores religiosos da sociedade pode tornar-se um desafio crítico nos países da velha Europa.
9. Religião na escola, para além da educação religiosa. A religião tem um papel a desempenhar na escola além de ser um conteúdo específico oferecido aos alunos? A resposta a esta pergunta revela até que ponto todo o ambiente escolar é favorável à religião. O que na prática acaba por ser o papel e as funções que o professor de Educação moral e Religiosa Católica é chamado a desempenhar na escola.
10. Formação de professores de educação religiosa: escolas, estruturas e opções prioritárias. Este ponto trata de um aspeto determinante, porque a formação que é proporcionada e exigida ao professor para desempenhar a sua missão evidencia a importância que o ensino da religião tem no sistema de ensino de um determinado país. É um professor como os outros?
Independentemente das diferenças entre países, há uma constante que importa referir, a existência, ou coexistência, de três paradigmas (Thomas Khun) que, na esteira de Flávio Pajer[8], podemos denominá-los como político-concordatário, académico-curricular e, o terceiro, ético-valorativo.
Vejamos cada um deles.
O primeiro paradigma caracteriza-se por uma polarização na transmissão da herança doutrinal e moral de uma confissão cristã específica, predominante num determinado país ou região. Esta situação permanece enquanto a sociedade permanece culturalmente homogénea (ou bastante homogênea) com a sua tradição religiosa; aqui, as autoridades civis e as religiosas das igrejas locais definem o perfil jurídico, pedagógico e administrativo das aulas de religião e o perfil profissional do professor.
O segundo paradigma, académico-curricular, concentra a sua atenção nos requisitos disciplinares da cultura religiosa como uma questão de currículo obrigatório. O conhecimento religioso, para ter um grau de dignidade disciplinar na esfera pública e democrática, deve poder delinear o seu perfil, original sim, mas academicamente plausível e comparável a outros conhecimentos, sem ter que desconsiderar a sua identidade do conhecimento. Assume a visão teológica como uma das interpretações racionais do mundo, capaz de dar o seu contributo para a leitura e compreensão do mundo.
Esta abordagem é muito apreciada porque tem a vantagem de oferecer ao estudante novas chaves de leitura para viver num contexto cada vez mais plural. Tem também alguns desafios, a saber: dá primazia ao conhecimento do facto religioso e não à adesão religiosa; faz uma clara distinção entre o que é a fé e o que é a opção religiosa, tratando-as de modo abstrato; articula de modo novo a relação entre a pastoral das comunidades e as competências culturais da escola pública, tendencialmente mais afastadas; e, por fim, a relação entre o professor e os encarregado de educação, que já não vê nele uma testemunha crente, mas sim um professor, entre os outros.
Por fim, o terceiro paradigma surge pela emergência da necessidade de uma educação ética, nunca antes vista, já que o mundo ocidental está a tornar pós-cristão. Com isso os cidadãos estão a tornar-se multiétnicos e multi-religiosos, com a evidente fragilização do tecido social, sujeitos ao risco de um intenso desmembramento das diversas e talvez conflituantes pertenças identitárias. Este facto faz com que diversos organismos políticos promovam a busca de um conjunto de valores pré-denominacionais, comuns a todas as religiões e crenças, que se devem ensinar de modo prioritário em todas as sociedades democráticas.
Como síntese, poderemos dizer que se fez um percurso em que se começou por focar na verdade religiosa, para depois se centrar na verdade científica da religião, para terminar na afirmação da centralidade dos valores que as religiões propõem.
O futuro do Ensino Religioso Escolar numa sociedade moderna e secular
Depois deste percurso, é tempo de refletir criticamente sobre as diversas concretizações, procurando, também, perceber qual o sentido que o ensino da religião terá nas escolas públicas dos estados modernos e laicos. Esta reflexão deverá, por isso, sair fora de qualquer argumentação confessional e centrar-se naquilo que é o próprio processo educativo[9].
João M. Duque argumenta em torno de três vetores: no primeiro, veremos que o ensino religioso pretende desenvolver o espírito crítico, e auto-crítico, dos alunos, em relação à sua opção religiosa, ou não religiosa; o segundo explora as conceções antropológicas que resultam de tradições religiosas, e que acabam por determinar certas opções éticas e politicas das sociedades; por fim, no terceiro, o ensino religioso seria chamado a desenvolver nos alunos o sentido do mistério, similar ao sentido poético, que é fundamental para uma conceção mais completa do ser-humano.
Ensino religioso e espírito crítico
O sociólogo francês Alain Torain explica, na sua obra Iguais e Diferentes: Poderemos Viver Juntos? que «o ensino das religiões, das suas crenças como da sua história, não é certamente um atentado à laicidade; pelo contrário, é o silêncio imposto sobre as realidades religiosas que é um atentado inaceitável ao espírito de objetividade e de verdade de que a escola laica se reclama»[10]. E a defesa desse espírito de objetividade e de verdade, que caracteriza a independência de uma instituição focada no lugar educativo da ciência, mede-se essencialmente por dois elementos: o exercício da atividade autocrítica (princípio científico mais geral e incontestado) e o respeito pela realidade, tal como se nos manifesta, nomeadamente a realidade das pessoas e das suas identidades. Estamos perante dois princípios que poderão parecer opor-se mas que, na realidade, deverão constituir duas faces da mesma moeda, caso contrário as identidades tornam-se ideologias encerradas sobre si mesmas e a crítica torna-se um exercício estéril, sem qualquer finalidade prática.
Numa sociedade pluralista e multicultural, como são as sociedades ocidentais, é relativamente fácil compreender a necessidade do respeito pelas identidades particulares. E se esse respeito se pautou, em muitas circunstâncias, apenas por uma tolerância negativa, ignorando-os, o certo é que vamos ganhando consciência de que é necessário mais. A diversidade das identidades deverá ser assumida, precisamente em nome da própria realidade. E a escola é seguramente a instituição da maior diversidade de identidades e proveniências: condições sociais, origens étnicas, identificações culturais e religiosas, entre outras. Em nome da verdade das pessoas que a constitui, incluindo os professores, a escola não pode fechar os olhos a essa diversidade que a habita, nem à diversidade dos elementos que constituem a sua pluralidade.
No conjunto dos elementos constituintes das identidades, a dimensão religiosa não é dos menos importantes. Pretender que esse elemento identitário fique fora da comunidade escolar é puro irrealismo e, em certo sentido, uma falta à verdade dos factos e das pessoas. Era o que pretendia, seguramente, a escola nacional laica, precisamente por querer retirar o aluno do seu solo identitário e pretender transformar a sua identidade na identidade uniforme do cidadão, segundo princípios pretensamente racionais e universais. Reparemos que a fidelidade da escola ao princípio da verdade implica o acolhimento de todas as dimensões de todos os sujeitos que a constituem. Também da sua dimensão religiosa, que deve ser naturalmente acolhida e acompanhada.
Consideramos, por isso, que é missão da escola pública ajudar os seus alunos, marcados por uma determinada identidade religiosa, a adquirir um espírito crítico em relação à sua convicção. Antes de tudo, é importante a aquisição do espírito crítico, como modo de ver o mundo que não absolutiza erradamente a própria posição. Mas, para ser séria e não se esvair na pura crítica como sistema, a crítica precisa de critérios e os critérios não podem prescindir do estudo aprofundado da sua própria identidade. É no aprofundamento interno da identidade religiosa que se pode exercer permanente autocrítica sobre ela. Assim sendo, o polo da crítica não chega a ser completamente extrínseco à própria identidade, mas um movimento que lhe é inerente.
Tradições religiosas e conceções antropológicas
Falar de liberdade pessoal e autonomia do sujeito emancipado não implica, por si, uma determinada tradição religiosa e espiritual? Dito de outro modo: será possível pensar a democracia, a liberdade pessoal, a autonomia e emancipação dos sujeitos sem termos presente os trajetos históricos que percorremos para chegar até aqui, os quais se tocam indiscutivelmente com determinadas tradições religiosas? Como mero exemplo pergunto: é possível pensar hoje o que é ser pessoa sem a disputas cristológicas da Idade Antiga? Aliás, se retirarmos o substrato religioso de muitos conceitos que hoje nos orientam e permitem a sã convivência, que precisam de uma mediação socializadora que é, por sua vez refletida, mas que provém das grandes religiões, este potencial cognitivo e semântico poderá um dia tronar-se inacessível.
Assim sendo, os princípios ou valores que subjazem à própria ideia de laicidade, como afirmação da dignidade do ser-humano, contra todas as suas violações, também hipoteticamente em nome de ideais religiosos – são princípios originados numa tradição que consideramos religiosa e cuja transmissão e afirmação dependem, também, de identificações religiosas. Transmitir esses valores extraindo-os ao seu contexto originário poderá́ conduzir a um problema de fundamentação teórica, mas conduzirá sobretudo a um problema de fundamentação prática, na medida em que eles dependem de convicções pessoais e coletivas para subsistirem.
O sentido do mistério
Chegamos agora a um outro nível da importância humanizadora da experiência religiosa, em si mesma, independentemente dos efeitos secundários que possa ter sobre os sujeitos e as sociedades. Vejamos apenas que a experiência religiosa poderia ser identificada com a experiência do mistério de tudo o que existe: Deus seria assumido, antes de tudo, como “mistério do mundo”[11], para usar uma expressão de Eberhard Jüngel. Entende-se por mistério não o enigmático, mas na sua dimensão originária, referente ao próprio milagre de tudo ser. Experimentar a realidade, quanto a essa sua dimensão, significa não a reduzir à mera objetividade empírica ou à pura relação dos factos – eventualmente manipuláveis. Também implica, por isso, não a situar apenas sob a perspetiva do benefício utilitário. Exige-se, pelo contrário, uma atitude de atenção ao permanente dar-se gratuito daquilo que acontece, como algo que nos envolve e que nunca dominaremos completamente. Poderíamos identificar esta dimensão da experiência com a experiência poética ou estética, nada negligenciáveis numa educação séria, que não pode, por isso, prescindir da Religião na escola.
Conclusão
Par concluir esta comunicação, permiti que deixe algumas questões no ar, para dialogarmos ou, simplesmente, para acompanharem aqueles que agora estais a iniciar a vossa formação.
1º O Professor deve ter uma orientação confessional?
Esta questão deriva da necessidade de, na escola pública, não haver opções confessionais, partidárias ou outra. A escola pública é para todos! Sim, mas convém ter presente que a identidade confessional de um professor não implica, por si só, que ela exerça proselitismo. O proselitismo não deve ter lugar na escola, mas o professor, estamos em crer, deverá ter a sua opção religiosa. Como se pode ensinar uma coisa que não se conhece e se saber? E como se pode saber o que é a Religião sem uma experiência religiosa, que depois de refletida e sistematizada. Claro que, porque se trata de religião, há sempre o “medo” de que o professor esteja a influenciar os seus alunos… Embora isso possa acontecer, naturalmente, não é o que acontece com qualquer professor, seja de que área for, quando ele é efetivamente bom? De influenciar a ser proselitista vai uma diferença grande. A primeira situação é razoável que aconteça, já a segunda é de evitar, de todo.
Se quisermos uma isenção tal, corremos o risco de ensinar outra coisa que não seja Religião. Sociologia da religião, por exemplo, ou outra forma de abordar o facto religioso, que não seja na perspetiva religiosa. Se quisermos ironizar, seria como pedir que as aulas de música fossem lecionadas por alguém que não gosta de música e não sabe tocar nenhum instrumento. Não vá dar-se o caso de o professor de música gostar de música e tocar bem violino e influenciar os alunos para estre instrumento em detrimento dos outros elementos da orquestra!
Quem legitima o professor?
Antes de mais, gostava que ficasse claro que eu preconizo que um professor de religião deve ter a mesma exigência e grau de habilitação igual a qualquer outro professor, de qualquer outra matéria. Neste sentido, as leis de cada Estado é que determinam qual a habilitação mínima e outros requisitos para exercer o cargo de professor numa escola. O que deve ser um professor de religião deverá estar regulamentado pela Lei de cada Estado. Isto é uma coisa, outra é ser o Estado a ratificar diretamente quem deve exercer a profissão ou, por outro lado, confiá-lo a algum organismo que, no enquadramento jurídico existente, se perceba que tem melhores condições para o exercício. Dou como exemplo a Ordem do Médicos, para os clínicos; a Ordem dos Advogados, para os juristas; a Câmara dos Contabilistas Certificados, para os contabilistas, e tantos outros. Em qualquer uma destas instituições, o Estado delega o controle do acesso à profissão, a formação permanente que deve ser exigida a cada profissional e as implicações jurídicas que as faltas à ética da profissão implicam. Se assim é para tantas profissões, que melhor instituição há que a Igreja para funcionar como instituição que garante à sociedade a qualidade do ensino da religião, através do reconhecimento daqueles docentes que são idóneos para tal?
[1] Este texto foi elaborado para servir de apoio à comunicação oral a realizar no dia 24 de novembro de 2019, na Sessão de Abertura do Curso de Formação para professores de Educação Moral e Religiosa Católica, na Diocese de Santiago – Cabo Verde. Em algumas partes transcrevemos textos de outros autores, sempre devidamente identificados, mas sem a referenciação metodológica que seria de esperar num texto científico que fosse para publicar.
[2] Giovanni Paolo II, «Al Simposio del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa sull’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica (15 aprile 1991)», acedido 21 de Novembro de 2019, http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1991/april/documents/hf_jp-ii_spe_19910415_insegnamento-religione.html.
[3] Jacques Delors et al., Educação um tesouro a descobrir, trad. José Carlos Eufrázio (São Paulo: Cortez, 1996), 98.
[4] Régis Debray, «L’enseignement du fait religieux dans l’école laïque – Ministère de l’Éducation nationale», acedido 27 de Abril de 2011, http://www.education.gouv.fr/cid2025/l-enseignement-du-fait-religieux-dans-l-ecole-laique.html.
[5] OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, The Toledo Guiding Principles on Teaching about Religion and Beliefs in Public Schools (Warsaw: Organization for Security and Co-operation in Europe, 2007).
[6] Cf. https://www.rel-edu.eu
[7] Cf. Martin Rothgangel et al., «Preface: Religious Education at Schools in Europe», em Religious education at schools in Europe. part 3: Northern Europe, ed. Martin Rothgangel, Martin Jäggle, e Thomas Schlag (Viena: Vienna University Press, 2016), 7–14.
[8] Cf. Flavio Pajer, «Cómo y por qué Europa enseña las religiones en la escuela: los tres paradigmas», REER 5, n. 1 (2015): 1–24.
[9] Seguiremos muitíssimo de perto, literalmente, o texto de João Manuel Duque, «O Ensino da Religião como resposta à laicização», Theologica 51, n. 2 (2016): 11–20.
[10] Alain Touraine, Iguais e Diferentes: Poderemos Viver Juntos? (Lisboa: Instituto Piaget, 1998), 363.
[11] Cf. Luís M. Figueiredo Rodrigues e Paula Cristina Santos Oliveira, «(Re)Pensar a “Morte de Deus”. Uma leitura de Eberhard Jüngel», Cenáculo 37, n. 146 (1997): 77–112.