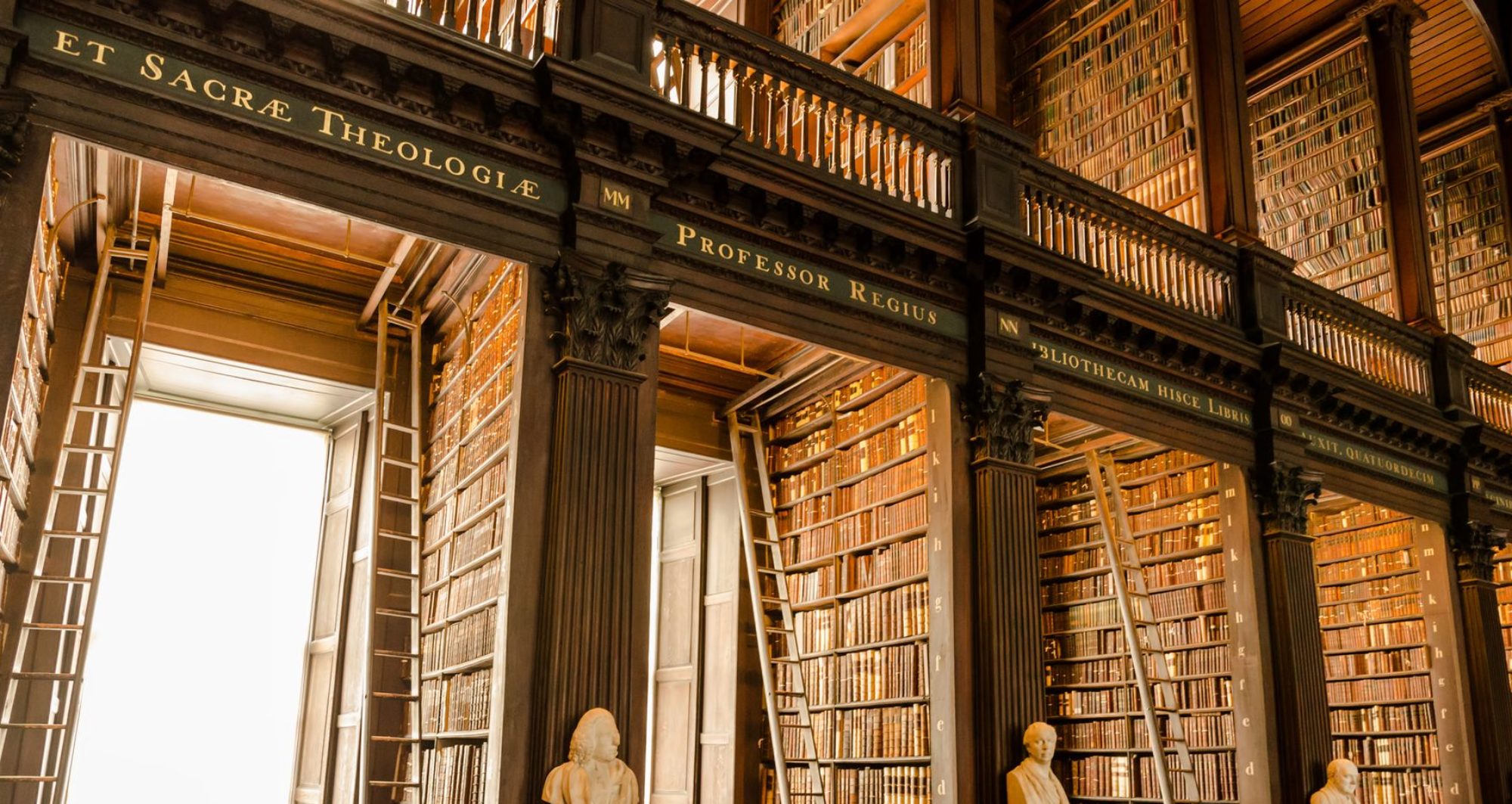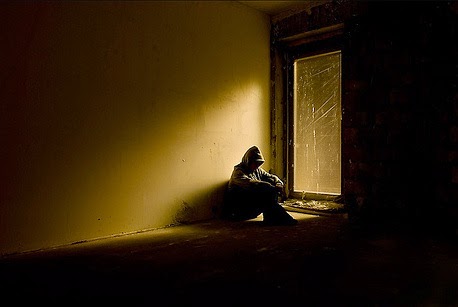A fé cristã, ao ser sobretudo uma experiência de relação, não pode ser vertida, sem mais, para um suporte digital[1], sob qualquer formato, porque não obterá o resultado esperado: a transmissão. Mas ao usar a «linguagem do amor, como linguagem das experiências fundamentais do homem, que é infinitamente variada, precisa de todos os sentidos, e de todos os registos expressivos, ainda que seja para se aproximar àquilo que quer dizer»[2]. O amor pede a atualização do virtual, no atual de cada história pessoal, porque a linguagem do amor, «como a linguagem religiosa, tem necessidade de uma comunicação pessoal e corporal»[3]. A Web, como meio, tem antes a capacidade de ser o catalisador positivo, porque, numa cultura de paradigma informacional[4], pode potenciar os processos de transmissão, ao ser o meio dominante.
[1]Cf. R. Laurita, «La comunicazione della fede: evangelizzare efficacemente nel tempo dei new media», in Credere Ogggi32, 2 (2012) 36.
[2]J.Lynch, Il profumo dei limoni. Tecnologia e rapporti umani nell’era di Facebook, ed. Lindau, Torino 2011, 84; Cf. L. Grosso García,«El amor: eje articulador de la educación. Apuntes para una pedagogía del amor», in Teología y Catequesis115 (2010) 37-50.
[3]R. Laurita,«La comunicazione della fede: evangelizzare efficacemente nel tempo dei new media», in Credere Ogggi32, 2 (2012), 38.
[4]M.Castells, A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura. A Sociedade em Rede, Vol. I, ed. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa 20073, 225-230.